'Pitty Venceu' por MSN Brasil
(25/10) - 13:34
Pitty venceu
Como uma rabugice de seis anos foi desarmada. Mais um capítulo de "Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar"
Acho que é preciso abrir uma exceção honrosa no meio dessa geração noughtie para a baiana Pitty. Especialmente porque sua música venceu toda a minha rabugice, minha impaciência e minha intolerância com todo “roqueiro de atitude” que cruzasse meu caminho. E isso demorou uns seis anos. Só quando ouvi “Me adora” pela primeira vez, coloquei as armas no chão e admiti estar diante de uma garota com talento evidente, carisma próprio, identidade clara, curiosidade artística e... atitude de verdade.
Porque atitude é postura, não tatuagens. E porque música é comunicação. E, no meio de uma geração desnorteada, é perfeitamente claro o sentido e o significado do que essa moça faz - ou, eventualmente, o que ela quer fazer.
Quem me contou pela primeira vez sobre Pitty foi seu produtor Rafael Ramos. Ele me ligou muito gentilmente para comentar a leitura de Dias de luta logo que o livro saiu. Contou também sobre os planos da Deckdisc e me segredou: “Lembra da banda Inkoma, da Bahia?”. Sim, eu lembrava. “Você não vai acreditar no som que a banda nova da vocalista faz.”
Eu havia acabado de abaixar a porta da revista Frente e estava francamente farto de qualquer next big thing do rock brasileiro. Tentando fazer uma retrospectiva dos meus primeiros dez anos de carreira, cheguei à conclusão de que havia vestido a camisa demais e me envolvido muito com uma geração que não estava muito interessada em meus palpites estéticos e nem em sua própria significância cultural. Achava que qualquer possibilidade de diálogo agora esbarrava no fato de que não havia ninguém disposto a falar, nem disposto a ouvir.
Nas entrevistas de divulgação do Dias de luta, sempre me perguntavam se eu não havia me arrependido de haver criticado algum disco. Eu dizia que não – na verdade, eu havia me arrependido de ter elogiado vários álbuns, condescendendo com o trabalho baseado mais no potencial do artista, nos shows que eu havia visto, muito mais do que naquilo que o fã poderia ouvir em casa. Dali em diante, eu havia decidido trancar meu coração, como diria Amado Batista. Era a minha fase não.
(É um tanto constrangedor admitir isso, mas o fato é que o nível de objetividade que o amigo leitor gostaria que existisse ao ler os parágrafos acima, francamente, não existe. Quando um jornalista decide que determinado assunto vai ganhar quatro páginas em vez de duas, que o título vai ficar na página da esquerda e não na direita, que a foto escolhida será um close em vez de uma panorâmica, está interferindo, editorializando. E o papel do editor é interferir. E um jornalista é um ser humano, na maior parte dos casos, sujeito a seus próprios dilemas e encanações pessoais. A única solução para o leitor é sobrepor diferentes linhas editoriais, diferentes leituras, diferentes níveis de apuração, e chegar à sua própria conclusão. Desculpe dizer isso quase que só no final do livro, mas este é um fato indisfarçável da vida.)
Pitty e sua banda: o nome de sua geração que mais produziu e que construiu algo mais parecido com uma marca e uma carreira
Eu sabia que havia me tornado uma fonte um tanto contaminada e, por consciência, procurei opinar o mínimo possível sobre a nova geração de bandas brasileiras. Mas eu era frequentemente solicitado a escrever sobre música e, vez ou outra, acabava incluindo artistas da geração de Pitty na reportagem. Em um caso específico, ela foi citada num contexto bastante desfavorável, em uma matéria que fiz encomendada pela revistaCapricho, como mais uma entre as várias estrelas de uma geração streetwear mais preocupada com a embalagem do que com o conteúdo.
Encontrei Pitty certo tempo depois. Ela foi muito elegante, mas dura: “Você não era o cara que falava de bandas novas no Estadão? Que criou a revista Frente?”. Sim, eu era. Estava diante de uma leitora. “Que decepção. Eu esperava que você soubesse tratar uma banda iniciante”.
Pitty estava coberta de razão. Falar de um disco de estreia ou de um nome novo não é questão de condescendência, é questão de parâmetros. É bem feito? É claro em suas intenções? É inovador em algum sentido? Representa bem seu público? Tem apelo popular? Leva jeito de que vai durar mais de um verão? Admirável Chip Novo, lançado no primeiro semestre de 2003, respondia bem a todas as questões. Trazia todos aqueles hits que fizeram carreira em rádios rock – rock com cara de videogame, cuja cronologia mais rebuscada para em Faith no More, abraçado com força suspeita pela MTV, não precisa me lembrar – e trazia uma belezura de balada hendrixiana “Equalize”, a música mais pedida do ano na rádio Jovem Pan. Tudo com um sonzão de fazer frente ao novo rock gringo, cortesia de Rafael Ramos, beneficiado pela inventiva guitarra de Peu Souza, que deixaria a banda no ano seguinte e se suicidaria em 2013.
Como contratada da Deckdisc, Pitty foi uma das artistas que melhor soube explorar a variedade de formatos dos tempos correntes. Lançou álbuns, singles em CD e vinil, tiragens limitadas, vídeos no Youtube, DVDs, trabalhos exclusivos para venda digital e até um projeto paralelo sofisticado, o duo folk Agridoce. Enquanto escrevo, noto que se passaram dez anos desde seu álbum de estreia. De muito longe, Pitty foi o nome de sua geração que mais produziu e que de fato conseguiu solidificar algo parecido com uma obra, uma marca e uma carreira.
Aí veio “Me adora”, um daqueles momentos na vida do artista em que tudo se encaixa perfeitamente. Peso sem ostentação, romantismo sem concessão, melodia grudenta, o palavrãozinho no refrão, as castanholas, o backing vocal beachboyolófico, o vocabulário delicadamente inadequado para uma canção de amor (“aceito a apatia se vier, mas não desonre meu nome”), é uma canção da qual lembraremos por muito tempo. A julgar pelos 14 milhões de views já computados quando escrevo isso, nos lembraremos por muitotempo.
Não sei se estou ficando mole ou sábio, mas o negócio é que aguardo com muito interesse os passos dessa moça.
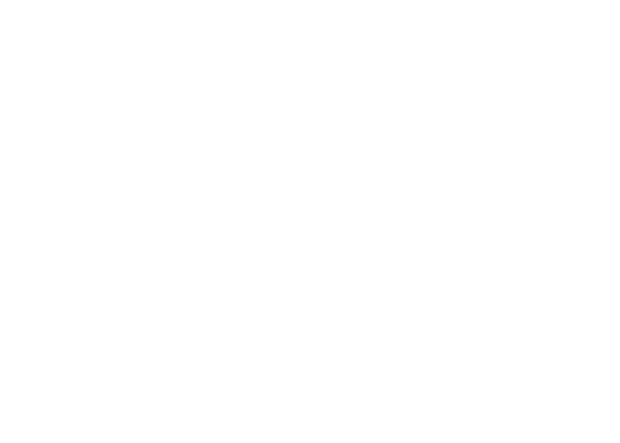





.png)

